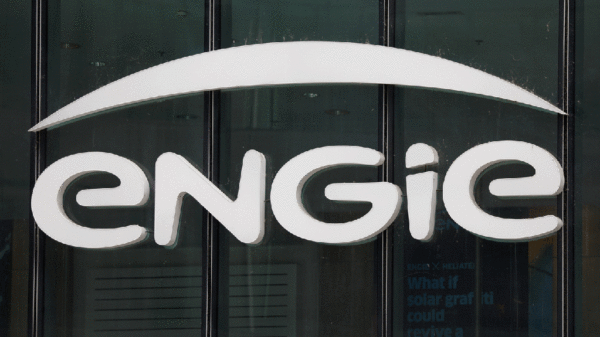A missão de controlar a inflação e trazer as expectativas para o centro da meta em 2022 vai exigir um remédio mais amargo do que o Banco Central — e as empresas e as famílias — gostariam: a taxa básica de juros, a , terá que subir do atual patamar de 2,75% ao ano para 6,50%, e isso desde que o governo faça a sua parte resgatando a âncora fiscal. A avaliação é de Solange Srour, economista-chefe do banco Credit Suisse no Brasil.
“O Banco Central precisa trazer o juro real mais perto do neutro rapidamente, ou até acima do neutro, para conseguir controlar as expectativas de inflação. Por enquanto, ele está dizendo que não vai trazer para perto do neutro. O desejo é fazer uma normalização parcial, que seria trazer a taxa de juros para um nível menos estimulativo”, diz Solange.
- Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.
“Eu acho que o Banco Central não vai conseguir trazer a taxa [Selic] para um nível de 4,5%, 5%. A nossa previsão é que ele vai até 6,5%. Sem trazer para próximo do neutro será muito difícil inverter a dinâmica do câmbio e controlar as expectativas de inflação”, afirma Solange, mestre em Economia pela PUC-Rio e ex-economista-chefe da ARX Investimentos.
Nesse cenário, ela ressalta que o trabalho do BC terá que contar necessariamente com o controle dos riscos fiscais pelo governo. “O Banco Central pode levar a taxa para 6,5%, pode trazer o juro real até para o nível positivo, mas, se não houver âncora fiscal, infelizmente a dinâmica do câmbio não vai mudar, e as expectativas de inflação não vão ficar ancoradas, justamente porque ele vai subir os juros com problemas fiscais.”
Esse quadro remete à situação conhecida como dominância fiscal, em que a alta do juros pelo banco central gera efeito inflácionario oposto ao desejado, por causa do impacto sobre a dívida pública (indexada em parte pela taxa), algo que, por sua vez, amplia a percepção de risco sobre a sustentabilidade da dívida pública e deprecia o câmbio.
Veja a seguir a entrevista de Solange Srour à EXAME Invest:
Como a senhora avalia o desfecho para o Orçamento deste ano?
O acordo do Orçamento diminuiu o risco da instituição do decreto de calamidade e retirou um cenário bem negativo de curto prazo. No entanto acho que continuaremos com um risco bem elevado de não cumprimento do teto, pois o corte necessário nas despesas discricionárias é muito elevado e corremos o risco de paralização da máquina pública.
Também me preocupa a falta de limitação para os programas relacionados à Covid e as despesas de Saúde relacionadas à Covid fora do teto e da meta de resultado primário. Como toda despesa implica aumento da dívida pública, mesmo fora do teto e da meta, a sustentabilidade da dívida fica em xeque.
A senhora alertou recentemente para o tema da dominância fiscal. Quais são os riscos?
Não acho que o país esteja em dominância fiscal neste momento. Mas vamos começar a discutir o tema mais seriamente cada vez mais. A dominância fiscal não é algo ‘preto ou branco’, é um processo contínuo, porque depende muito das expectativas que os agentes têm sobre se a dívida pública é sustentável.
As expectativas vão evoluindo à medida que vão surgindo informações sobre o que o país está fazendo para colocar as contas públicas sob controle e sobre o que está fazendo para tirá-las de controle. E nas últimas semanas ampliamos muito as informações pelo lado negativo e por isso a discussão vai ganhar mais força.
Uma questão é se vamos conseguir cumprir o teto neste ano. Isso não significa cumprir legalmente o teto, porque o país pode fazer muito gasto extra-teto, como foi feito no ano passado sob o guarda-chuva da PEC da Guerra e o estado de calamidade. Mas existe uma dificuldade para cumprir o teto mesmo sem contar os gastos com a pandemia.
Precisamos saber quais os limites para os gastos extra-teto. E por que não há uma contrapartida? O país não consegue reduzir a carga de jornada de servidores públicos ou alterar programas sociais para buscar recursos que paguem parte dessa conta. É por isso que eu acho que o risco fiscal está aumentando. Ao mesmo tempo, o Banco Central precisa subir os juros por causa da inflação e isso vai trazer essa discussão sobre dominância fiscal cada vez mais.
A aprovação da PEC Emergencial não foi uma contrapartida que ameniza a situação?
Não, de jeito nenhum. Ela poderia ter sido uma PEC suficiente, mas, infelizmente, foi bastante desidratada. Primeiro, porque não incluiu a redução da carga de trabalho dos servidores nem qualquer tipo de redução de programa social. Quando a PEC foi à votação, foram retirados gatilhos que proibiam a progressão de carreira, algo que seria muito relevante para estados e municípios. Seria o único gatilho que poderia ser ativado neste ano, porque os demais já estão: já não haverá aumento para servidor e o salário mínimo já está estabelecido.
E os 95% de despesas obrigatórias que acionariam os gatilhos são um número muito alto. Os gatilhos não serão acionados neste ano nem no ano que vem também por causa disso.
Isso pelo lado positivo. Pelo lado negativo, em caso de estado de calamidade, a PEC abre uma caixa de pandora com gastos relacionados à Covid, fora do teto, mas que poderão ser feitos de forma ilimitada sem que haja gatilhos de contrapartida.
Algumas contrapartidas não poderiam vir na forma de aprovação da agenda de reformas no Congresso? Qual a sua expectativa para que isso aconteça?
Infelizmente, o Brasil ficou com a agenda parada quase três meses de novembro até as eleições no Congresso, momento em que a economia estava retomando com mais força, a primeira onda da pandemia enfraquecia e havia otimismo no cenário internacional. Não aprovamos nem o Orçamento nem a PEC Emergencial e ficou tudo para fevereiro.
E aí veio a tempestade perfeita: a pandemia piorou bastante e veio a necessidade de retomar o auxílio emergencial, além de outras medidas. E cresceu muito a pressão tanto do Executivo como do Legislativo por mais gastos. Ou seja, adiamos a discussão para o pior momento, que é quando os casos estão subindo, com os hospitais lotados. A expectativa é que agora vamos lidar com uma séria de saúde e a crise fiscal.
Fica difícil avançar com outras pautas. Vai depender da vacinação e da eficácia das medidas de isolamento para a economia poder voltar. E daí nos aproximamos do início do período eleitoral. Desperdiçamos uma oportunidade.
Na sua avaliação, o mercado está precificando os riscos que estão pela frente?
Há um prêmio de risco significativo sobre os ativos do Brasil no mercado, que está expressa na inclinação da curva de juros, na taxa de câmbio e na performance do país vis-à-vis com outros emergentes. Será que já está tudo precificado? A verdade é que ninguém sabe. Se eu soubesse que amanhã a pandemia estaria controlada no país, esse risco seria menor e haveria um cenário mais positivo para os ativos no Brasil.
Mas a incerteza é muito grande, não sabemos o quão eficazes as vacinas são para a cepa brasileira, se as medidas de isolamento vão ter um impacto muito grande na diminuição de casos. Acompanhamos a evolução no dia a dia. Portanto não acho que esse prêmio vai sair no curto prazo enquanto houver tantas incertezas sobre a pandemia e o controle fiscal.
Fora isso, existe um cenário internacional mais desafiador. Ao mesmo em que há um crescimento mundial mais forte, com as economias retomando – Estados Unidos, Ásia e Europa com atraso –, há uma abertura das taxas de juros lá fora muito grande. E isso é desafiador para países emergentes. O Brasil é um país mais arriscado e vai precisar pagar mais juros, talvez o câmbio tenha que ficar mais depreciado para ficar mais atrativo.
Na virada do ano, havia certo consenso no mercado de que a inflação em 12 meses atingiria um pico perto do meio do ano e daí passaria a ceder com os choques de oferta perdendo força. Qual a sua visão?
Nós discordamos que a inflação era temporária já desde setembro [de 2020]. Para mim, ali já estava claro que não teríamos um cenário de apreciação cambial expressiva, algo que fazia parte do consenso de mercado por causa do ambiente com muita liquidez. O câmbio apreciado jogaria a inflação para baixo.
Eu estava preocupada com dois fatores: o diferencial de juros no Brasil, que era nada atrativo para fluxo, e o fato de a política fiscal estar descontrolada, o que aumentava o prêmio de risco no câmbio. E isso reduzia o espaço para o câmbio apreciar.
E eu fui surpreendida porque tudo o que apontei ficou mais evidente ainda, mais do que eu imaginava: a inflação subiu muito acima do que nós, que estávamos pessimistas, pensávamos. E a situação fiscal ficou mais problemática ainda, pelo questionamento que o país começou a fazer sobre quebrar o teto de gastos, algo não tinha a ver só com a Covid.
Então a inflação ficou bem mais permanente do que nós imaginávamos. E por causa desse câmbio mais depreciado, e com o mundo crescendo mais, e as commodities tão pujantes e com preços em alta, a inflação ficou bastante persistente.